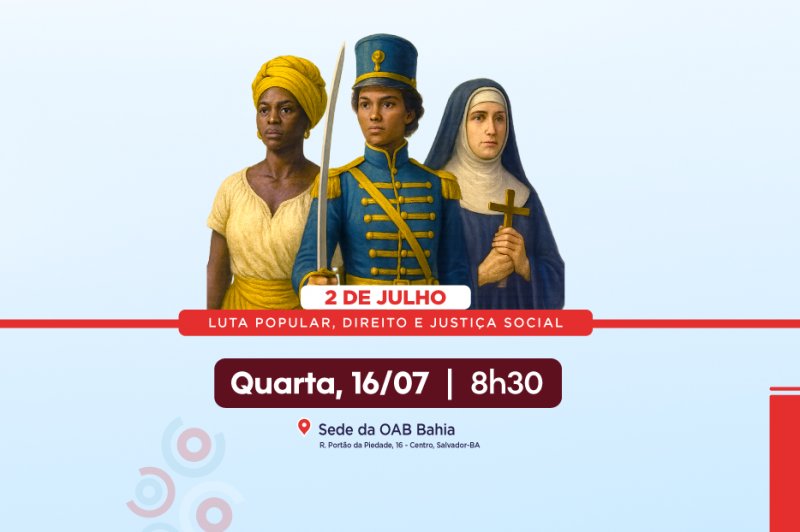Notícias
- Página Inicial/
- Notícias/
- Todas as notícias/
- Princípios do Direito não evitam brigas entre juristas
Princípios do Direito não evitam brigas entre juristas
Por Celso Mori
A perplexidade da sociedade brasileira, e especialmente da comunidade jurídica, em razão dos recentes incidentes ocorridos no Supremo Tribunal Federal não deve ser uma experiência estéril, que se reduza à constatação do desapontamento.
O episódio desafia análises que possam efetivamente contribuir para o aperfeiçoamento das instituições.
Embora nem todos tenham consciência disso, grande parte da perplexidade decorre do fato de conflitos pessoais dessa magnitude ocorrerem justamente no Supremo Tribunal Federal, onde têm assento juristas escolhidos entre os mais destacados e notórios do país. Ninguém põe em dúvida a excelência dos currículos dos atuais integrantes da Corte.
Teoricamente, entre grandes juristas que se reúnem exclusivamente para dizer o Direito, não deveriam ocorrer trocas de ofensas pessoais. Em primeiro lugar, porque o Direito é a ciência do relacionamento. É a ciência dos regramentos de conduta que permitem a vida em sociedade, assegurados, entre outros, os atributos inerentes à personalidade, a proteção da honra e da dignidade pessoal, o direito à manifestação livre do pensamento. Pontos de vista divergentes sobre teses de Direito, ou mesmo sobre a aplicação do Direito a casos concretos são pressupostos da atuação colegiada de juristas e juízes, e nunca poderiam ser causa de atritos pessoais. A dialética, a tese, a antítese e a síntese são inerentes à estrutura do processo.
Portanto, a sociedade percebe como paradoxal o fato de que, na mais alta corte de Direito do país, os princípios e as regras de Direito não sejam suficientes para evitar atritos entre os seus próprios integrantes. Parte da frustração decorre da crua constatação de que se o Direito não servir nem mesmo para disciplinar a conduta dos que o cultuam e fazem dele a razão de ser de suas vidas, de pouco servirá para pautar o comportamento do cidadão comum.
Não se exige nem se espera que ministros do Supremo Tribunal Federal, ou profissionais de qualquer outro tribunal ou órgão judiciário, sejam semideuses que devam superar toda fragilidade da condição humana. Mas, exatamente porque não são semideuses, também não se espera que sobreponham a dimensão das seus personalidades aos limites de suas nobres e sacrificadas atribuições. É razoável a expectativa de que estejam muito acima da média da população, não apenas nas virtudes e no conhecimento jurídico, como no que se refere a comportamentos que possam violar direitos de outros.
Quando um jovem e inexperiente advogado, ou algum advogado mais agressivo insere em suas petições expressões que desbordam da discussão jurídica e incidem ou resvalam na crítica pessoal, os juízes mais atentos, com fundamento na legislação processual, determinam que as expressões ofensivas sejam riscadas da peça processual. Quando estabelece regras de comportamento que proscrevem as críticas pessoais, o Código de Processo impõe que as discussões processuais se mantenham estritamente na esfera das teses, teorias e práticas jurídicas.
Todo cidadão tem direito de expressar seu pensamento, e até prova em contrário tem a seu benefício a presunção de que o faça de boa fé. Com maior razão, um ministro do STF tem o direito, como relator de um caso ou na simples manifestação de seu voto, de ser havido pelas partes, pelos advogados, e especialmente pelos seus pares como no exercício regular e digno de um direito.
O juiz não tem só o direito. Tem o dever funcional de expressar a sua convicção. E tem o correspondente direito de não ser criticado, ou pessoalmente ferido nos seus atributos de personalidade ou na sua dignidade pessoal, pelo fato de assim se expressar. Quando um juiz diz a outro, em sessão de julgamento, que o colega não está colocando os fatos “em pratos limpos” parece se evidenciar violação dessa presunção de boa fé. É do notório saber popular e jurídico que não colocar as coisas em pratos limpos, quando se tem a obrigação profissional de fazê-lo, significa tergiversar sobre os fatos. Há, aí, uma acusação implícita de má fé.
Nessa afirmação, que transcende a objetividade da discussão jurídica para ingressar na esfera da crítica descabida ao comportamento pessoal, há uma ofensa que configura transgressão de direito.
Por outro lado, o direito também cuida, em várias de suas especialidades e notadamente no campo penal, da proporcionalidade da reação do ofendido. A reação só é legítima quando guarde proporcionalidade e moderação em relação à ofensa sofrida. Dizer, diante de uma crítica ou ofensa implícita, que o outro não tem autoridade moral para fazer a crítica, significa reagir à ofensa com ofensa maior. Significa colocar o ofensor em um contexto que transfere a discussão de um incidente específico e próprio de um determinado processo, para um questionamento da conduta habitual e da moralidade do ofensor.
O direito também faz distinção entre as críticas que se possam fazer diretamente ao criticado, que em determinadas hipótese configura injuria, e a crítica que se possa fazer em público, que em certas circunstâncias pode configurar difamação.
A partir de um determinado ponto na troca de agressões, diz o direito, como nos eventos de rixa, que ninguém tem razão é que é preciso proteger a coletividade. Portanto, o que todos sentimos, o que parece ser o sentimento predominante na comunidade jurídica e na sociedade, a par de lamentar as feridas recíprocas que se possam ter causado, é uma profunda necessidade de proteger a instituição.
O Supremo Tribunal Federal tem uma relevância, tem um papel na estrutura Judiciária e republicana que é insubstituível e baseado muito mais em sua autoridade moral do que no conteúdo específico de cada um dos seus julgamentos. A imagem que a sociedade faz, e que gosta de fazer do STF do país, é de um órgão comprometido e compromissado com os grandes temas jurídicos pelos quais a sociedade muitas vezes se apaixona, mas, sobretudo, de um reduto de serenidade e de apaziguamento dos conflitos sociais. Onde o direito é dito com a tranqüilidade de que só são capazes os que efetivamente compreendem e vivem os princípios em que se funda.
O Supremo Tribunal é um órgão colegiado. Portanto nenhum ministro é o Supremo, mas todos o representam, no sentido de que todos os ministros são responsáveis pela sua imagem, pela percepção que dele tem a sociedade. Notadamente o presidente da Corte, a quem cabe a sua representação oficial e institucional. Mas não só ele. Uns ministros não são corregedores dos outros, embora todos possam exercer o direito de crítica ao que reflita no bem comum. Entretanto, e como observou o ministro Marco Aurélio, até para a crítica há uma liturgia a ser observada.
Os julgamentos, as discussões jurídicas devem ser públicos, como manda a lei. Limitados aos temas jurídicos e sempre de forma impessoal.
As discussões administrativas, os saudáveis, necessários e respeitosos debates a respeito da administração e do papel institucional do Supremo, ou a respeito de como se possa definir a sua inserção política na divisão de poderes da Republica ou na sociedade, devem se travar internamente, como manda a liturgia. A formação da vontade política do Supremo, coletiva por natureza, se deve dar no resguardo da clausura, como exigem a liturgia e o decoro. Não se extrai disso que o Supremo se deva fechar para a sociedade e para a opinião pública. Mas, quem deve aparecer para a sociedade é o STF, não os seus ministros. A reputação do colegiado é coletiva. E mesmo as reputações individuais acabam sendo injustamente atingidas, se a reputação coletiva não for mantida.
Se o doloroso episódio tiver valido para esse aprendizado, a dor não terá sido em vão.